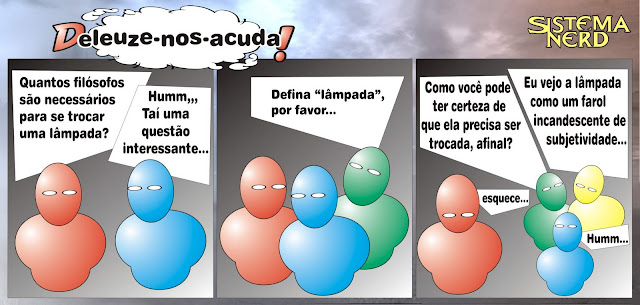quinta-feira, 30 de dezembro de 2010
Resenha: Tron - O Legado
ATENÇÃO – CONTÉM SPOILERS!
Um jovem anti-herói recebe uma pista sobre o paradeiro de seu pai, vinte anos depois de seu desaparecimento, e acaba imerso em um mundo virtual governado por um programa obcecado pela perfeição, que deseja desesperadamente materializar-se no mundo real.
Quando “Tron: Uma Odisséia Eletrônica” foi lançado, os arcades eram uma febre mundial. Os computadores e tudo relacionado a eles eram tratados com deferência e cerimônia. Programar era uma arte oculta e impossível a meros mortais. Os usuários, uma elite, em posição privilegiada na vanguarda tecnológica. O mundo era alguma outra coisa, bem diferente.
Sendo assim, é preciso estabelecer alguns pontos, antes de continuarmos. Se a trama iniciada com o primeiro “Tron” não é assim tão original, vista com olhos de hoje, experimentados por Matrix e afins, nos anos 80 era, e muito. Talvez, aí esteja a única grande diferença entre os dois. Roteiro, atuações e visual seguem os mesmos padrões e características, seja isso bom ou mau.
Falando em visual, uma única palavra o define muito bem: neon. Muito neon, contra o negro céu relampejante. Assim é o cenário que se desdobra em todas as direções durante quase a totalidade do filme. Tanto neon assim deixou alguns efeitos colaterais: o brilho do alaranjado escuro lembra muito o império de Star Wars – não por acaso é a cor dos vilões – os outros, Blade Runner. Não que isso fosse humanamente evitável (veja aqui uma excelente explicação para o uso das cores no universo do fillme).
Aliás, a saga de George Lucas vem à mente até em outros momentos, como quando o “garoto novo” assume o lugar de artilheiro na nave em fuga, ou quando Obi, ou melhor, Kevin flynn, surge retumbante em seu manto esvoaçante em meio à luta na boate de Zeus. Voluntárias ou não, tais citações são divertidas e, quando surgem, até motivam um cutucão em seu amigo nerd.
A Trilha sonora, a cargo do Daft Punk, é, para Tron, o que os temas de Vangelis foram para Blade Runner, guardadas as proporções, obviamente. Pode-se dizer, facilmente, que a música concebida pela dupla é um dos personagens do filme, um dos mais importantes, aliás. Quanta sincronia com as imagens, quantos detalhes… Como tamanha dinâmica, profundidade e emoção podem ser expressas por máquinas eletrônicas, por enquanto, insensíveis e ainda obedientes às talentosas mãos humanas de seus programadores?
Ainda em se tratando de música, permanece na memória a cena luminosa na qual a banda Journey faz vibrar a poeira do velho fliperama, seus sintetizadores encontrando perfeita ressonância com o clima imposto pelo filme, dali em diante. Uma honrosa saudação dos queridos anos oitenta aos trintões que batem no peito para dizer aos mais jovens, entre um suspiro e outro, que viveram a melhor fase da vida na melhor década de todas. Worlds apart, infelizmente.
Após esse momento, as máquinas virtuais começaram seu desfile portentoso e impecável, pontuado por grunhidos e rugidos intensos, enquanto o grande vilão, Clu 2.0, plastificado virtualmente, balançava perigosamente na fronteira entre o feio e o assustador. Assim como em muitos momentos do Tron original, nesse caso, as limitações técnicas são absolvidas em nome de uma certa licença poética. Afinal, o personagem não é feito de carne e osso, mesmo. Por outro lado, pode-se questionar a performance caricata e o visual à David Bowie de Zeus-Aladdin Sane.
É importante lembrar que toda a referência visual e conceitual do primeiro Tron veio das restrições tecnológicas da época e da relação que a sociedade ainda ensaiava, frente aos misteriosos computadores. Muita coisa mudou, entre um filme e outro. Apesar da evolução providencial que vende bem a idéia de um cenário virtual, porém atual e vivo para o público de hoje, o filme fica um tanto melhor se o expectador não comparar a árida e negra paisagem digital do mundo governado por Clu às interfaces amigáveis e iluminadas com as quais interagimos diariamente. Também ajuda não pensar que grande parte dos temidos e veneráveis usuários está, hoje, entre os típicos freqüentadores de Lan Houses em países subdesenvolvidos, digladiando-se com o Farmville ou expondo suas sandices em redes sociais. Sorte de Kevin Flynn, que virou neon em pó sem fazer a menor ideia de como as coisas estão aqui fora.
Faltou alguma coisa? Faltou. O público fica sem conhecer muitos aspectos do funcionamento daquele universo tão bonito e bem feito. Certas metáforas poderiam ter sido realizadas, certos elementos virtuais poderiam ter sido melhor associados com o que vemos do lado de cá da tela.
Apesar de tudo isso, após o inflamado discurso do vilão, o jovem anti-herói acaba conseguindo se redimir e voltar para casa com seu elixir. Ainda bem. Até mesmo a ideia de outra sequência, tão descaradamente proposta antes dos créditos subirem, chega a ser vista com bons olhos. Talvez, sem a necessidade de tantas explicações e flashbacks, Sam encontre nela o espaço que ainda não teve para se desenvolver como personagem.
E qual é o legado do Tron original, afinal? Fácil. O Tron dos anos 80 foi aquele que “desvendou” para ingênuos olhos infantis o universo oculto nas entranhas de um computador. Foi um combustível e tanto para a imaginação de muitos moleques que passaram a enxergar motocicletas onde antes só havia um ou dois pixels coloridos. Se essa nova incursão pelo mundo de neon da Disney fizer o mesmo pelas crianças e adolescentes da década de 10, está ótimo.
sábado, 18 de dezembro de 2010
Paradigmas
Desejando o Papa Bonifácio VIII fazer mais algumas decorações para a sacristia da Igreja de São Pedro, mandou mensageiros percorrerem a Itália, intimando os maiores pintores da península a virem para Roma. Um destes mensageiros ouvira dizer que este artista rústico, alegre e extravagante, que dividia o tempo entre o arado e o pincel, pintara lindas paisagens de sua província natal.
Este mensageiro, entrando na cabana deste camponês pintor, disse:
- Sua Santidade, o Papa, deseja examinar seu trabalho, Mestre Giotto. Sua Santidade está chamando a Roma todos os bons artistas. Deixe-me ver alguns de seus quadros; assim decidiremos se podemos aproveitá-lo.
Giotto riu e mergulhou vigorosamente um pincel num pote de tinta vermelha. Com um traço negligente, riscou um enorme círculo num pedaço de papel, e entregou-o ao mensageiro.
- É esse o meu trabalho. Veja-o. Gosta?
- Que absurdo é esse? Estou aqui numa missão séria!
O Pintor encolheu os ombros, como se dissesse: “Deixe aqui ou leve. É o que posso fazer de melhor”.
- Então é isso o trabalho de Giotto! – disse o Papa, quando o mensageiro voltou, trazendo a amostra. – Um grande círculo vermelho e nada mais?
- Ele é um tolo pretensioso, Pai. Foi-lhe oferecida uma grande oportunidade. E o que fez, traçou um grande círculo vazio.
- Diga-me uma coisa – perguntou o Papa. – Teve ele muita dificuldade no traçar deste círculo, sem o auxilio do compasso?
- Não, Pai. Somente com um mergulho do pincel na vasilha e um traço displicente.
- Bem, bem. Não está nada mau este círculo. Na realidade, é um círculo bem redondo. Ele deve ter um bom golpe de vista e mão muito firme para fazer isso. Que tipo de homem é esse Giotto?
- Um camponês vulgar, Pai, e feio como o Satanás. Contam que ele sabe uma quantidade de anedotas pitorescas.
- E o consideram um artista?
- Dizem que pinta um carneiro ou um cachorrinho numa parede, num pedaço de cerca quebrada. E, como um milagre, a mancha imediatamente parece ter vida. Mas decerto somente os camponeses pensam assim.
- Os camponeses sabem o que falam. Eu próprio já ouvi histórias semelhantes sobre esse homem. Quando menino, não foi aprendiz do grande...
- Cimabue? Sim. Dizem que uma vez enquanto Cimabue saiu da sala, Giotto pintou uma mosca no nariz de um dos retratos do mestre. Cimabue tentou tocá-la, quando voltou. Você perguntou de que família é ele?
- É filho de um ferreiro, Pai. Pastoreava rebanhos de ovelhas, em Mugello. – Essas colinas em Mugello são muito verdes, eu me lembro. E o povo de lá é um povo simples. Mas, de tempos em tempos, surge entre eles um homem de visão. Você compreende?
- Compreendo Senhor.
- Esse homem poderá entreter-nos. Se não for com seu gênio, ao menos com seus gracejos rústicos. Traga-o a Roma.
Fonte: Vida de Grandes Pintores – Ed. Globo, 1965.
E assim ele foi. Mas, deixemos de acompanhar Giotto em sua belíssima e importante trajetória para observarmos as diferentes visões que tiveram o mensageiro e o Papa Bonifácio de um mesmo círculo vermelho.
Frequentemente, o termo “paradigma” é utilizado com sentido negativo, para indicar falta de reflexão ou senso crítico de alguém que se deixou levar pelo senso comum ou preconceito. Mas a questão é bem mais complexa. Querendo ou não, fazemos uso de paradigmas constantemente, toda vez que interagimos com os elementos que compõem a realidade em que vivemos.
Um homem julga cada fenômeno com o qual se depara, ao longo da vida, conforme esse fenômeno se apresenta a ele e também de acordo com aquilo que sua experiência visual-conceitual prévia o ensinou. Ou seja, entendemos e apreendemos o mundo à nossa volta com base nos modelos já estabelecidos, que nos dizem, constantemente, como as coisas são. Se encontramos, sobre uma folha de papel, um fino cilindro afunilado em uma das pontas, supomos logo que trata-se de uma caneta ou um lápis, independentemente das cores ou do material do qual é feito. Para alguém de outra cultura, ou épocas mais distantes, tal objeto seria apenas um mero cilindro afunilado em uma das pontas. Conta-se que os índios brasileiros custaram muito a perceber a chegada das caravelas portuguesas, pelo fato de que não conheciam nada parecido. Aquelas formas, flutuando no oceano, eram impossíveis para eles.
 Sendo assim, quando nos deparamos com uma “anomalia”, há o que o psicólogo e filósofo William James chamou de “confusão atordoante e intensa”.
Sendo assim, quando nos deparamos com uma “anomalia”, há o que o psicólogo e filósofo William James chamou de “confusão atordoante e intensa”. No campo científico, o estabelecimento de paradigmas é essencial para que não aconteça essa confusão atordoante, visto que modelos já conhecidos ajudam no preparo para a compreensão de novos fenômenos. Não há melhor exemplo desse pensamento do que a célebre afirmação de Newton, segundo a qual ele só era grande porque estava sobre os ombros de gigantes. Segundo o filósofo Thomas Khun, a ciência acadêmica é um constante acúmulo de conhecimentos, como uma sempre crescente construção, na qual cada cientista adiciona um novo bloco, começando de onde outro parou.
Mas, e nas artes? Será que a situação é a mesma?
As escolas de arte e os grandes mestres poderiam levar à confirmação de tal hipótese. Afinal, é difícil encontrarmos artistas que nunca foram pressionados por padrões e expectativas estabelecidos e aceitos pela “academia” e pelo grande público. Além disso, é sabido que ninguém, de fato, poderia criar algo a partir do nada. O novo consiste em transformações a partir daquilo que já existe.
Mas o verdadeiro artista está comprometido com uma busca particular, a inalcançável satisfação das suas necessidades de expressão. Por lançar mão de uma visão incomum do mundo ao redor, o artista sente, em primeira mão, essa confusão atordoante. A falta de modelos para apoiar e embasar aquilo que ele mesmo percebe acaba transferindo suas inquietudes para o seu público, materializadas em um produto artístico.
Quase sempre, a revelação desse seu mundo interior causa o mesmo impacto que as caravelas portuguesas causaram aos índios brasileiros. Confusão e cegueira. Quebra de paradigmas.
A apreciação de uma grande obra de arte leva a uma imersão nas intenções do artista, em um processo de “adivinhação” de sua proposta. O estímulo e a satisfação da curiosidade em uma reflexão prazerosa fazem parte do jogo estético. O Papa, ao receber o trabalho do grande Giotto das mãos confusas do mensageiro, sabia disso.
Assinar:
Comentários (Atom)